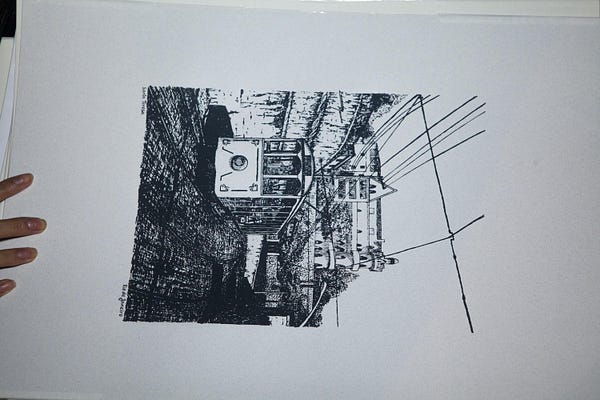Conheci Juninho numa ocupação em que morei, Jacarepaguá, rua Tirol. Ele era chefe da turma que chegou no prédio depois da ocupação geral pelos que se tornaram moradores. Tava na maior consideração comigo, que tinha ajudado a mina dele numa situação, sem querer nada em troca - comportamento incomum. Na época ele tava guardado, a mina tava na rua, vi a confusão, ela pequena com um gargalo na mão, encarando no grito várias outras, maiores que ela. Dei o papo, "sai daí, irmãzinha, é muita gente contra". Ela resistia, "que nada, vou praonde, aqui eu moro e vou ficar, tenho pra onde ir não". Olhou pra mim, desconfiada, "quero nada contigo não, mina, tenho minha família pra cuidar, tô só te dando o canal, é um prédio cheio de apartamento desocupado, tu taí no maior veneno... vai pra lá que é melhor patu". No fim ela acabou vindo, ainda que prevenida, até ficar num apartamento sozinha. Depois, ficou amiga da "minha mulher" e, quando o Juninho fugiu da cadeia e apareceu lá, passou a fita. Ele ficou quase um filho. Tinha 21 anos, mal esboçava uns pelos em cima da boca.
Condenado a mais de quatrocentos anos de prisão, por crimes acumulados, ele me contou sua história. Os pais desceram do nordeste tocados pela fome, num pau de arara, a mãe com ele na barriga, chegaram sem saber o que fazer. O pai carregou caixote na feira, fez de um tudo, como ajudante de pedreiro aprendeu a ser pedreiro e exercia a profissão quando ele tinha sete anos. Então uma incursão policial, como é comum em favelas, irrompeu casa adentro bem na hora do jantar, pai, mãe e filho sentados na mesa, como era do seu costume. Eles sabiam que acontecia da polícia invadir as casas, mas nunca tinha acontecido com eles. Na reação, o pai levantou gritando "na minha casa não!" Foram suas últimas palavras, os tiros o derrubaram em cima da mesa. A mãe aos gritos, o menino estatelado na cadeira, vendo a cena, enquanto os policiais vasculharam a casa e, como vieram, foram embora, deixando só o rastro de arraso, frustração e ódio.
Dois anos depois, a mãe de Juninho, que passara a lavar roupa pra sustentar sozinha o filho, descobriu a tuberculose e morreu uma semana depois. A tosse freqüente já durava muito tempo, ela resistia à medicina, tinha medo. Com razão, a medicina pública não se recomenda, dá medo mesmo. E o medo deu em morte, como é comum. O menino, de nove anos, ficou sozinho no mundo. Na favela. Os pais eram queridos, gente boa, e muita gente se dispôs a alimentar o menino, a abrigar, ajudar sua criação. Solto na vida, numa sociedade que estimula o consumo, a ostentação como valor pessoal e social, o caminho natural foi a cooptação pelo tráfico. Soltava uma pipa, com certas manobras servindo de comunicação, e tava garantido com a lei do lugar, ganhava moral e alguma grana, que aumentou quando passou a fogueteiro, já com onze anos. Aos treze, deu seus primeiros tiros. Revelou-se rápido e certeiro, Matou uma, duas, tres vezes, ganhou moral e posto, chegou na gerência da boca, foi dono de favela. Preso uma, duas vezes. Na terceira, grade geral, segurança máxima. Demorou pra fugir. E tava ali. Cheio de afeto, cuidado, "se precisar de qualquer coisa tô aí, ó, qualquer coisa mesmo". Era o chefe de uma turma de uns dez, que ocupavam os andares de cima do prédio, o quinto e o sexto. Todos saíam à noite pra trabalhar, cada um no seu ramo, mansões, transeunte na zona sul, carros, motos caras, Juninho trabalhava na miúda, assaltava pessoas. Fiquei horrorizado quando ele me falou, candidamente, que era mais seguro atirar primeiro e revistar a vítima depois, pra evitar reações. Passei um dia inteiro pensando intensamente, angustiado, até que ele chegou, como sempre, depois das quatro da manhã pra fumar maconha e ir dormir. Então, no meio da conversa, enfiei um "tu já pensou se um desses caras que tu derruba pra roubar não tem um filho de sete anos esperando por ele em casa?" Observei tenso a reação dele, empalidecendo, o olhar fixado na parede em frente. Em cima da mesa, eu sabia que tava o revólver, ele sempre deixava ali. Esperei o olhar dele exprimir algum ódio, pronto pra me atracar com ele se ele fosse na direção da arma. Mas o olhar só mostrou confusão, ele se levantou de chofre, sem me dar tempo de nada, pegou o 38, meteu na cintura dizendo "não tinha pensado nisso" e saiu sem falar mais nada.
Demorou uns quatro dias pra ver Juninho de novo. Ele chegou na madrugada, "jesus, quero falar com você". Eu tinha cabelo comprido e barba e os bandidos me chamavam assim. "Desde aquele dia que tu falou aquele negócio eu não atirei. Não consegui e não consigo mais. Eu encosto a figura, digo 'não reage não que eu te mato' e funcionou até hoje. Agora mesmo eu enquadrei o cara, dei a ordem, o cara reagiu, eu atirei nele, ele caiu. Na hora que fui ver se ele tava vivo, virou na esquina um carro de polícia e eu tive que fugir. Agora eu tô nessa agonia, não sei se matei o cara ou não!" Senti uma onda forte de sentimento, abracei o cara e chorei. Ele não entendeu e chorou também, justificando "ele não tinha nada que reagir, porra, tá vendo que eu tô com o ferro na mão apontado pra ele?", mas não era esse o motivo, o que eu vi naquele momento foi um passo dado. Ontem mesmo o cara matava sem o menor problema de consciência. Com a minha participação, foi dado um grande passo pra ele e, por conseqüência, pra humanidade. "Não, cara, não, é bom que tu agora não queira matar, não queira machucar. Tô contigo nessa, tu tá no caminho", eu dizia ainda chorando, mas já rindo, sorrindo pro Juninho, sabotado, torturado, perseguido, judiado desde a infância, se sensibilizando, descobrindo a humanidade que a sociedade escondeu dele. Um pequeno passo, pequeníssimo, mas um entre tantos passos necessários a qualquer um que vive, a qualquer caminhada.
Isso foi durante o plano Cruzado, 1985, mais ou menos. Juninho certamente está morto, como Aninha, a mina dele. Uma vida curta, planejadamente curta, socialmente planejada.
Quando saímos de lá, rumo a Petrópolis, Juninho ainda reinava com Aninha no prédio e na área. Ele não conseguia entender porquê eu ia embora sendo que ali tinha "toda proteção". Mas eu sentia que tinha que tirar minhas filhas dali e fomos sem ter pra onde, deixamos as coisas num depósito na rodoviária - depois pagamos com coisas - e variamos entre rua e hotelzinho, dependendo da grana que se arrumava. Primeiro, comer, depois hotel, se der. Uma ou duas semanas depois vi nos jornais a desocupação do prédio, debaixo de muito tiro, gás lacrimogênio, pancadas e prisões. Houve resistência. A ponto trinta que eu vi passar na escada do prédio furou uma quantidade de camburões, até ser desalojada, morto o bandido por atiradores de elite em prédios vizinhos, bem mais altos. Não soube quem era, nem o que aconteceu com ninguém. É uma história velha e dá pra imaginar um monte de conclusões possíveis. A gente não estranha nada. E minha vida já tava bastante tomada em Petrópolis, onde afinal alugamos um porão no Itamarati e vivemos um ano, até subir pra Montes Claros, durante a gravidez do Ravi.
Quinze dias depois de chegar em Montes Claros, pelos jornais, acompanhei a pior enchente de Petrópolis, verão de 87 pra 88, milhares de mortos, casas destruídas, famílias desabrigadas. Nossas coisas foram nessa, nem voltamos pra buscar. O meu prejuízo foi um caixote cheio de cadernos escritos, com histórias vividas por anos de estrada, com datas, nomes, locais, acontecimentos ali, acabados de acontecer. O maior prejuízo que já tomei - há de existirem razões e eu até imagino algumas. Muita gente perdeu muito mais ali, nem tenho do que reclamar.
http://petpol.org/2015/03/25/nem-pra-menor-nem-pra-maior-prisao-e-a-forma-mais-cara-de-tornar-pessoas-piores/